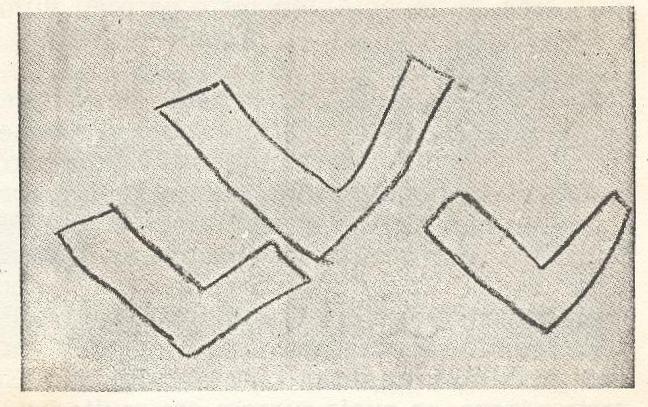A HISTÓRIA DO PEQUENO REINO – Texto complementar 1
DEVEMOS DEIXAR AS CRIANÇAS BRINCAREM DE GUERRA?
Neste texto procuro abordar um pouco mais detalhadamente a questão dos jogos de faz de conta com armas de brinquedo e com violência de mentirinha. (Dentro da proposta apresentada no livro A História do Pequeno Reino e no site www.lucapr.com, o artigo é sugerido como leitura complementar à discussão 2).
Debater essa questão é muito importante em um mundo em que, por exemplo, a cada novo conflito que explode, em qualquer lugar do planeta, os meios de comunicação nos mostram imagens terríveis, que acabam sendo vistas por nossas crianças.
Elas se impressionam e percebem o interesse dos adultos por essas imagens e por esses temas. Como querer que elas não brinquem de guerra? Aliás, será que devemos tentar impedi-las de brincar de guerra? Eu acho que não…
A discussão desse tema é motivada pela constatação de que, atualmente, muitas escolas de Educação Infantil estão tentando coibir todas as brincadeiras em que as crianças dramatizam cenas violentas e proibindo que elas tenham brinquedos como revólveres ou espadas de plástico.
Por mais que eu perceba as boas intenções que estão por trás dessa proibição, gostaria, neste artigo, de discordar totalmente dessa posição. Crianças pequenas, meninos e meninas, precisam de brincadeiras agressivas.
Vejamos um exemplo radical disso: nos dias seguintes ao terrível atentado de 11 de setembro de 2001, crianças do mundo inteiro fizeram brincadeiras muito mais violentas do que de costume, envolvendo explosões, pessoas mortas, etc. Isso é um fato e não significa que essas crianças estivessem tornando-se mais violentas porque brincavam de reproduzir as imagens traumatizantes que a TV mostrava incessantemente. Na verdade, o fato de brincar é que permitia que as imagens perdessem um pouco de seu impacto. Proibir as crianças de dramatizarem esses eventos terríveis seria uma maneira de dificultar muito mais a assimilação deles. O melhor, segundo os(as) psicólogos(as), era deixar que elas brincassem, conversar com elas e mostrar compreensão. Com o tempo, esses jogos deixaram de ser importantes e as crianças voltaram a brincadeiras mais diversificadas.
Houve um tempo em que ninguém se preocupava se as crianças brincavam de guerra ou de bangue-bangue. Eu mesmo, lá pelos 7 anos de idade, ganhei uma incrível metralhadora de plástico de presente de minha avó, e essa foi apenas uma de um sem-fim de armas de brinquedo de todos os tipos que povoaram a minha infância e a das crianças de minha geração. Nossas mães jamais tentaram proibir essas brincadeiras e, no recreio da escola, as professoras também não.
Mas o mundo mudou, e o medo da violência fez surgir um movimento contra as armas de brinquedo e até contra as brincadeiras em que crianças dramatizam cenas violentas. A vida da classe média brasileira era mais tranqüila em outras épocas, e quase ninguém imaginava que brincar de bandido e mocinho pudesse estimular a formação de pessoas agressivas. E não pode mesmo.
Aliás, muito pelo contrário: o que se tem constatado nas pesquisas com pessoas muito violentas — dessas que agridem a esmo ou pegam uma arma e atiram nos colegas — é que a infância delas foi solitária e/ou traumática e que elas não brincavam muito de mocinho e bandido… Segundo Gerard Jones, um autor norte-americano que há anos vem estudando a violência nas brincadeiras, pesquisas mostraram que, quando eram crianças,
(Os) adolescentes violentos muitas vezes tinham dificuldades para formar parcerias com outras crianças em jogos infantis.[i]
Para quem estuda Psicologia não há nada de surpreendente nessa descoberta, e o jogo é visto há décadas como um excelente remédio para a criança que está com raiva, frustrada ou traumatizada. Não há nada de errado com o fato de, muitas vezes, os modelos oferecidos por desenhos animados e seriados da televisão acabarem tornando-se veículos para brincadeiras em que a criança joga com sua própria agressividade.
Brincar com a própria agressividade. Isso é fundamental para a criança. É brincando que ela aprende que sua agressividade não afeta a realidade, que desejar a morte de alguém, por exemplo, não significa que esse alguém vai morrer. Nos jogos, pode-se morrer e, mais importante, ressuscitar à vontade.
Quando as crianças podem brincar com suas fantasias agressivas, em pouco tempo desenvolvem plena consciência da diferença entre a violência de brincadeira, dramatizada em seus jogos, e a violência de verdade.
Quando o adulto que não quer essas brincadeiras coíbe a dramatização agressiva, na verdade, está passando uma mensagem terrível para as crianças: “Eu, que deveria estar no controle, não sei como controlar sua agressividade. Tenho medo de que essa violência de brincadeira acabe virando violência de verdade”. Em vez de brincar com a agressividade e aprender a ineficácia dela, as crianças aprendem que os adultos parecem temê-la. O pior que pode acontecer é que elas próprias passem a ter medo de sua agressividade. Isso é grave e é algo que uma escola de Educação Infantil pode acabar ensinando sem querer, mesmo com a melhor das intenções…
É preciso preocupar-se não com a criança que participa de brincadeiras em que são encenados tiroteios e brigas, mas sim com aquela que nunca participa delas. Por quê?
A resposta é simples: porque a agressividade, em vez de ser dramatizada e expressa no jogo, pode estar sendo reprimida. Por trás de uma criança tímida demais, que não brinca, pode estar acontecendo um acúmulo de agressividade que vai explodir muitos anos depois, sob a forma de agressão aos outros ou a si mesma.
Quando uma escola de Educação Infantil tenta proibir jogos de violência ou com armas, certamente ela encontra muitas dificuldades. Por exemplo: quando vão brincar de Lego, a primeira coisa que muitos meninos fazem com as pecinhas são “revólveres”. A agressividade proibida nos jogos vai aparecer nos desenhos ou, o que é muito pior, de forma não simbólica, resultando em problemas de verdade.
É difícil reprimir todos os jogos de faz-de-conta violentos e, como estamos vendo, não é aconselhável tentar fazer isso. Gerard Jones, que foi citado há pouco, resume os trabalhos de uma colega inglesa:
As pesquisas recentes de Penny Holland em pré-escolas britânicas descobriram que, quando se permitia que as crianças brincassem com armas de brinquedo, os jogos se tornavam mais ‘agressivos’ no curto prazo, mas a atmosfera na sala estava notavelmente mais relaxada mais tarde no mesmo dia.[ii]
As pesquisas parecem confirmar uma idéia antiga: crianças que podem vivenciar a violência de faz-de-conta fazem uma verdadeira catarse de algumas de suas experiências emocionais mais fortes.
Pode parecer paradoxal, mas, se queremos crianças menos violentas e mais relaxadas, devemos deixar que elas descarreguem as frustrações e a agressividade em jogos de faz-de-conta. Tentando proibir os jogos violentos, estamos dificultando as coisas para nós mesmos e, o que é mais grave, para as crianças.
É lógico que tudo tem limites, e o bom senso de nossos educadores e educadoras deve dizer em que momento as brincadeiras agressivas podem estar tornando-se presentes demais e tomando muito tempo na rotina das crianças. Mas, na maioria dos casos, as coisas não acontecem assim, e as crianças não mostram o menor desejo de brincar somente com situações de violência.
As recomendações dos psicólogos a respeito de um bom desenvolvimento infantil têm implicações pedagógicas muito claras: ao mesmo tempo em que devemos definir limites e coibir a violência física real entre as crianças, podemos permitir e até criar meios para facilitar a expressão simbólica da violência. Ou seja, não precisamos incentivar as dramatizações de violência, mas também não é necessário preocupar-se muito em reprimir essas brincadeiras.
Para concluir, podemos dizer que existe um método simples para saber se é necessário coibir a atividade violenta das crianças. Basta, quando elas estiverem brigando, nos perguntarmos se estão brigando de verdade ou se é de brincadeira. Se for real, devemos interromper; do contrário, isso não é necessário. Por incrível que possa parecer, a melhor coisa que um adulto pode fazer, quando uma criança atira nele com um revólver de brinquedo, é entrar na brincadeira, colocar as mãos no peito e morrer de mentirinha…
Esse artigo faz parte da proposta pedagógica “A História do Pequeno Reino”, de Luca Rischbieter, que pode ser acessada no endereço: www.lucapr.com.br
Notas:
[i] Traduzido de: JONES, Gerard. Killing monsters: why children need fantasy, super heroes, and make believe violence. Nova York: Basic Books, 2002. p. 37.
[ii] Idem, p. 40.